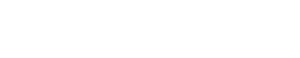Uma observação pontual sobre o Código de Defesa do Contribuinte
Como se sabe, a Lei Complementar n. 225/26 instituiu o chamado Código de Defesa do Contribuinte, prevendo direitos, deveres do Fisco e da administração pública, inserindo a figura do devedor contumaz e prevendo regimes jurídicos para bons contribuintes. Nesse rol de disposições, há uma previsão, ainda pouco discutida, que me chamou a atenção. Sobre ela, gostaria de tecer algumas reflexões no presente artigo.
Trata-se da disposição inserida no inciso VII do artigo 3º, de tal diploma legal, determinando que a administração tributária deve “VII – presumir a boa-fé do contribuinte nos âmbitos judicial e extrajudicial, sem prejuízo da realização das diligências e auditorias;”.
Onde um dispositivo, como esse, pode nos levar? Se há previsão de que a administração pública deve preservar a boa-fé do sujeito passivo, então a má-fé não pode ser presumida. Penso que essa dicção traz algumas implicações importantes que devemos meditar.
De plano, eu digo que se a má-fé não pode ser presumida, as presunções não poderiam ser aplicadas, salvo mediante previsão legal. Em outras palavras, se o legislador instituiu certa presunção, por exemplo, de depósitos incompatíveis com as receitas declaradas, o fundamento da presunção não é mero ato cognitivo do autoridade fiscal, mas a lei. Fora de tal hipótese, isto é, da chamada presunção legal, não deveria a fiscalização presumir a má-fé do sujeito passivo: ela passa a ter um ônus de comprovar suas acusações.
Sendo assim, agora há previsão clara, no ordenamento, de que todas as acusações sem base em presunção legal devem ser efetivamente provadas, isto é, não podem ser fundamentadas em mera aplicação presuntiva.
Tenho para mim que essa previsão no direito tributário deveria nos estimular a tecer uma nova reflexão sobre o instituto da presunção e da prova no direito tributário, especialmente, para diferenciar os dois expedientes.
Embora, na prática, tal diferenciação possa ser complexa, há algumas situações que são claramente presuntivas, como passo a expor. Para tanto, gostaria de efetivar uma pequena proposta formal de diferença entre prova e presunção. Tomadas provas e presunções como argumentos para se inferir fatos, a prova é aquela em que da demonstração da verdade de certo elemento que se torna incontestável, reconhece-se a necessidade de que outro exista; a presunção é a demonstração problemática, isto é, aquela em que, uma vez provado certo elemento, infere-se a possibilidade de outro Y e, mesmo assim, aceita-se Y como verdadeiro. Apresentada essa diferença, sob o ponto de vista formal, verifiquemos alguns de aplicação presuntiva:
(I) Análise por amostragem, isto é, a conclusão de que um todo um conjunto é dotado da característica C, porque uma amostra desse conjunto é dotada de C.
O exemplo acima é presuntivo porque da verdade “alguns S são P” não se infere que “todo S é P”, que se verte, apenas, como possibilidade. Logo, se a autoridade fiscal prova um dado amostral, não deverá, per saltum, inferir tal aspecto de um conjunto inteiro, sem previsão legal para tanto.
Assim, se uma autoridade administrativa analisa parte de documentação, mas não toda, e assim o faz sem uma autorização legal, parece-me que adotará uma presunção de que todos os demais casos seguem o padrão, em violação à necessidade de lei para que seja aplicada a presunção – desde que, evidentemente, não haja legislação que lhe autorize tal conduta.
Portanto, tenho para mim que tal expediente não deveria ser efetivado, pelo menos a partir da nova previsão da LC 225/26 – vou abstrair, nesse artigo, a questão de se a proibição de presunção sem base legal era vedada, mesmo antes da veiculação do Código de Defesa do Contribuinte. Caberia, portanto, um exame de todos os documentos necessários para se comprovar a alegação.
(II) Inferência de que o elemento E existe, porque E pode ser causa de outro F e F existe.
O caso acima releva o pensamento “hipotético”, ou seja, a situação meramente possível. Se entre dois elementos E e F, E é causa possível, mas não necessária de F, da existência de F não se pode inferir, com certeza, que é o caso de E.
Por exemplo, a chuva é causa de o chão estar molhado. Mas, não a única: se o chão está molhado, pode ter chovido, mas alguém pode ter utilizado uma mangueira. Se observo o chão molhado e digo “choveu”, estou presumindo a chuva.
No caso do direito tributário são múltiplas situações que se enquadram em tal hipótese. Por exemplo, o registro de uma operação abaixo de mercado pode ser gerado por subfaturamento. Mas, não necessariamente: pode ser o caso de o contribuinte ter efetivamente alienado a valor abaixo de mercado por situações peculiares. Assim, a autoridade administrativa, segundo penso, não deveria simplesmente presumir que tal situação envolve um subfaturamento e deveria aprofundar suas investigações – salvo casos de previsão legal expressa, como, por exemplo, ocorre na LC 214/25, em diversos dispositivos. Deveria, observando o indício, se aprofundar para demonstrar o subfaturamento.
(III) Parte-se da premissa de que certo documento é falso por falta de elemento formal.
É comum que se exijam certas formalidades em determinados documentos para se comprovar elementos alegados. Contudo, se o contribuinte deve ser presumido de boa-fé, então a ausência de certas formalidades não deveria ser exigida para o contribuinte comprovar que tem razão.
Por exemplo, se um contrato é assinado sem firma reconhecida, assinatura eletrônica, ou outro elemento que demonstre a data de assinatura, partir da premissa que o sujeito passivo está faltando com a verdade é uma presunção de má-fé do sujeito passivo. Entendo que tais falhas probatórias deveriam ser sopesadas com o princípio da presunção da boa-fé do sujeito passivo.
Vejo, também, que que esse princípio deveria ter um peso na avaliação de provas. Historicamente, o lançamento goza de boa-fé. Assim, se a fiscalização traz alguns elementos de prova, cabe ao sujeito passivo comprovar suas alegações que infirmem a realidade demonstrada no lançamento de ofício.
Por vezes, porém, o conjunto de provas trazidos por ambos os lados gere uma categoria que eu gosto de designar de “dúvida objetiva”: uma possibilidade objetiva de ambos, Fisco e contribuinte, estarem corretos.
Um exemplo concreto que me vem à mente são discussões envolvendo notas fiscais inidôneas, em que o Fisco identifica problemas com fornecedores, tidos como irregulares ou inexistentes e, a partir daí, infere a inexistência de operações que beneficiaram um adquirente com despesas, créditos etc.
Em tais casos, é comum que o sujeito passivo traga provas da operação, ora aceitas, ora não, a depender da avaliação de quem julga e do contexto fático.
Embora seja difícil efetivar generalizações e, evidentemente, cada caso tenha suas peculiaridades, tenho para mim que a presunção de boa-fé no mínimo exigiria uma “boa vontade” para se apreciar os elementos trazidos pelo sujeito passivo.
De qualquer sorte, cabe à administração pública, encontrando indícios de não cumprimento da obrigação tributária, aprofundar suas diligências e buscar provar eventuais violações incorridas pelo sujeito passivo.
Encerremos por aqui. O presente artigo não tem a pretensão de esgotar a reflexão dos efeitos que o inciso VII do artigo 3º da LC 225/26 acarreta. Mas, quem sabe alertado para essa inovação, contribua para novos debates.